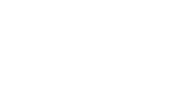As perguntas nuas / 15 – Viver e dar com gratuidade e gratidão. Assim, nada se perde.
por Luigino Bruni
publicado no jornal Avvenire no dia 14/02/2016

“Valência. Junto à margem da lagoa, caminhava um homem ancião, com um cão talvez ainda mais ancião. Vi-o aproximar-se do bordo da água e tirar do saco pães velhos. Pedaço a pedaço, lançou-os aos peixes. Fiquei a olhá-lo, fascinado pela monotonia dos seus gestos. Não durou pouco. Só no fim do fornecimento compreendi que estava a ver o versículo 11 de Qohélet. ‘Espalha o teu pão sobre a superfície das águas’ Um homem ancião, no outono de 1993, numa cidade espanhola, executava, à letra, o convite, dando ao versículo o seu significado único”.
Erri de Luca, Racconto su un verso di Kohèlet
«Espalha o teu pão sobre a superfície das águas; passado muito tempo, achá-lo-ás de novo» (Qohélet, 11, 1). Estamos perante um dos versículos mais belos e sugestivos do livro de Qohélet.
O seu significado não é simples, mas a sua ambivalência – poderia também esconder traços de um antigo provérbio sobre os proveitos e os riscos do comércio através do mar – não nos deve impedir de levar a sério o seu primeiro e imediato significado (uma antiga e sábia regra é preferir a interpretação mais simples entre as muitas possíveis de um texto complexo). De fato, um seu sentido aparece-nos quando lemos o primeiro versículo juntamente àqueles que se seguem: “Quem observa o vento, não semeia; e o que examina as nuvens, não ceifa. … Semeia de manhã a tua semente, e de tarde não deixes as tuas mãos ociosas, porque não sabes qual das coisas resultará melhor, se esta ou se aquela, ou se ambas são igualmente úteis” (11, 4-6). A lei da vida fecunda é o sobejo, a magnanimidade, a generosidade. O grão de trigo cresce e sacia-nos, se semeamos mais do que devemos, se vamos para além do cálculo da eficácia, se lançamos no terreno mais semente que a estritamente necessária. A nossa semente não deve ser lançada apenas no terreno bom. Também as pedras e os espinhos devem receber a sua parte porque, se semeio apenas dentro dos limites estreitos do meu campo bom, o trigo que nascerá não será suficiente nem sequer para mim. A fertilidade do ‘cêntuplo’ requer a generosidade do semeador, tem necessidade da sua capacidade de desperdiçar uma boa parte da semente, de se sublimar, de se transcender.
Quando Qohélet escrevia ou ditava estas palavras, o pão era alimento essencial e escasso para a quase totalidade da população. Com o pão se vivia e fazia viver os filhos; sem pão sofria-se, morria-se. Deitá-lo à água era, portanto, um gesto subversivo, imprudente, curioso, errado para os observadores do lançador. Mas, a Qohélet, agradam os paradoxos, já o sabemos, sobretudo os que nos podem ajudar a desmascarar a vaidade e as certezas fáceis, porque autoilusões. Também desta vez, o melhor exegeta de um versículo bom e misterioso é o próprio autor que, se o fazemos ‘falar’ com todas as palavas do seu livro, desta vez diz-nos que a primeira e imediata leitura daquele texto pode ser, justamente, a correta. E, assim, olhando com a grande-angular de todo o livro, descobrimos que a chave de leitura do início deste penúltimo capítulo é ainda a polêmica de Qohélet contra a religião econômico-retributiva. Nada é mais subversivo para a lógica econômica que um pão deitado à água.
Na sua sociedade, muito mais que na nossa, o pão era um bem especial, muito mais que uma mercadoria. Muito raramente era comprado ou vendido. Era produzido comunitariamente, partilhado nas refeições e, sobretudo, era dado. Um pedaço de pão não se nega a ninguém, nem ontem, nem hoje e, quando o fazemos, renegamos a nossa dignidade. Era usado, também, porque bem precioso, para os sacrifícios, como oferta sagrada (Génesis 14, 189. Para além do autoconsumo e dos deveres cultuais e de solidariedade, o pão não podia e não devia ser desperdiçado. Quando era criança, se, em casa, caía no chão um pedaço de pão e se estragava, antes de o dar aos animais, a minha mãe mandava-me beijá-lo. Cada pão vivido como dom recebido torna-se pão eucarístico: é boa gratuidade (eu charis), é gratidão. É maná, é pão de vida. Poderíamos reescrever a Bíblia como história do pão, tão potente e essencial é a sua presença.
Certamente que Qohélet, aqui, não nos quer convidar a fazer com o pão sacrifícios propiciatórios no mar ou nos aquários – foi duríssimo também com os sacrifícios a Elohim, no templo de Jerusalém (4, 17). Nem o pão deitado à água é o que é para os pobres ou para o templo. O seu desafio é à teologia que justificava qualquer ato humano na base dos bons resultados. A quem dava o pão para ser justo e, assim, lucrar uma bênção de Deus: “O homem de olhar generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre” (Provérbios, 22, 9). Em vez disso, Qohélet sugere-nos o lançamento do pão na superfície da água, se queremos vê-lo voltar de muitos modos, muitas vezes, em muitos dias. A sua sabedoria é uma sabedoria do excesso, da superação dos limites do razoável e da conveniência, social e religiosa.
Quem experimentou viver a vida, plena e verdadeiramente, formando uma família, pondo filhos no mundo, quem criou uma empresa ou uma comunidade, ou quem as recebeu em herança e não as quis matar, quem seguiu sinceramente uma vocaçã, sabe que as coisas mais belas voltaram a si quando foi capaz de ir para além do registro do cálculo utilitarista, quando abandonou a lógica dos custos-benefícios e, inconvenientemente, fez o que não devia fazer, baseado apenas na prudência e no bom senso. Semeamos na época errada, começamos a navegação sem bom vento. No entanto, por vezes, os frutos chegaram, a calmaria não venceu. Pelo menos uma vez. Sabemos fazer nascer uma criança apenas por amor, esquecidos de qualquer vantagem para nós. Sabemos partir, acreditando na terra prometida enquanto atravessamos apenas desertos, voltar a partir, como velhos, acreditando ainda naquela terra, quando atravessámos muitos, demasiados, desertos e somente desertos. E, embora sabendo que o que permanecia era o nosso único pão, não o guardamos na mochila, e o deitamos à água. Sabemos desejar que o paraíso também exista mesmo se estamos certos que não seja para nós.
Na nossa vida existem muitos atos de gratuidade, mas são quase sempre parciais, que nos libertam apenas de algumas dimensões da lógica retributiva. Estamos muito espalmados por reciprocidade para conseguir, muitas vezes, abandonar o registo da troca. É possível a gratuidade absoluta, o amor puro?
A questão do “amor puro” foi enfrentada por uma determinada teologia, há alguns séculos atrás, quando, após as discussões e as reações à Reforma protestante, nasceu a necessidade de alertar contra os perigos que nascem de alargar ao homem a capacidade de amar com amor puro, que deve permanecer prerrogativa exclusiva de Deus. O amor puro é perigoso, é subversivo. No entanto, se olharmos bem o mundo, damo-nos conta que os seres humanos, apesar de tudo, também são capazes de amor puro. Quase nunca o somos, mas faz parte do nosso repertório. E se, na vida, não se fizer, pelo menos, uma experiência de amor puro, dado e recebido, a humanização não se realiza em plenitude, paramos muito depressa no caminho debaixo do sol. Um homem, sem amor puro, é demasiado pequeno. A nossa semelhança com Elohim deve atingir também o seu amor. Pelo menos uma vez, talvez apenas uma só vez, decisiva. Talvez seja na última hora, quando pudermos dar o último pão que nos for pedido, escolhendo tornarmo-nos, com o nosso corpo, eucaristia da terra.
A Bíblia – e, portanto, a vida – está cheia de excessos que chegam apenas quando, livremente ou por necessidade, saímos do horizonte comercial. O filho que regressa a casa depois de a ter deixado e perdido, um bebê que nasce dum ventre murcho, o carneiro que aparece depois de termos empunhado a faca, os poucos pães que se multiplicam depois de os termos dado e perdido, um profeta que ressuscita depois de o termos visto morrer na cruz. Nenhum contrato podia trazer de volta à vida um filho morto, fazer-nos gerar quando a fecundidade tinha acabado, fazer ressuscitar um crucificado. Nenhum carneiro pode ser trocado por um menino, não existe nenhuma bolsa onde cinco pães se transformem em alimento que sacia uma multidão.
As verdadeiras surpresas da vida são as que florescem, livremente, do excesso, as que ninguém podia prever nem imaginar, as que nos salvam, porque imensamente maiores que nós e que as nossas conveniências. Se tivéssemos a garantia ou somente a esperança que o pão dado se tornará cêntuplo, aquele pão já não seria a boa gratuidade capaz de se multiplicar. Seria um investimento, um seguro ou uma aposta. Para construir, aqui na terra, a “civilização do cêntuplo” ou, pelo menos, alguma parte sua, é preciso reaprender a lógica do excesso e do pão deitado à água. São muito mais os pães que se perdem na água que os que voltam para trás, trazidos pela corrente. O extraordinário do pão multiplicado pela água está na certeza de o ter perdido para sempre no momento em que o dávamos. O valor infinito, e, portanto, impagável, do pão dado que volta muitas vezes, em muitos dias, depende também do muito pão que permanece no fundo do mar, e que nunca volta a saciar-nos. Nem todo o dom dado, volta; mas o que nos aparece como desperdício e dor pode entrar numa outra economia maior, a que inclui também o mar e os seus peixes. A terra alimenta-se e vive também das nossas lágrimas tornadas pão (Salmo 42, 4).
O pão centuplicado é o último pão que nos restava. Não é o pão supérfluo, nem o da filantropia dos ricos. São as migalhas de Lázaro que podem voltar multiplicadas, não as sobras do rico comilão: “Os saciados tiveram que ganhar o pão e os famintos foram saciados. Até a estéril foi mãe de sete filhos e a mulher que os tinha numerosos, ficou estéril” (1 Samuel 2, 5). Só o pão dos pobres pode ser “salvo das águas” e, um dia, voltar para os livrar da sua escravidão, para lá do mar.