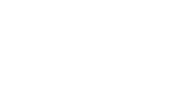As parteiras do Egito/8 – O Deus da Bíblia convida a caminhar sem medo no deserto
por Luigino Bruni
publicado em Avvenire em 28/09/2014
 "Abster-se da idolatria significa não fugir às questões de filhos e filhas que perguntam: ‘porque se faz este rito, porquê este mandamento ético, porquê amar o Deus único? Significa também não fugir das respostas”
"Abster-se da idolatria significa não fugir às questões de filhos e filhas que perguntam: ‘porque se faz este rito, porquê este mandamento ético, porquê amar o Deus único? Significa também não fugir das respostas”
(Jean-Pierre Sonnet, Generare è narrare).
Não foi preciso mais que uma só noite para que o faraó esquecesse todo o sofrimento das pragas; as únicas preocupações do império voltaram a ser os tijolos e o ‘serviço’ dos israelitas: “o rei do Egito foi avisado de que o povo de Israel ia fugir. Então o rei e os seus servidores mudaram de ideia a respeito deles e disseram: «Mas como pudemos permitir que os israelitas se fossem embora e deixassem de ser nossos escravos?». O faraó mandou atrelar o seu carro de combate e pôs-se em marcha com o seu exército” (14,5-6). A aurora do novo dia mostra que na libertação dos israelitas não havia qualquer gratuidade.
A primeira nota de fundo de qualquer regime idolátrico é mesmo a ausência de gratuidade que, pelo contrário, é a primeira dimensão da fé bíblica. A criação é dom, a aliança é dom, a promessa é dom, a luta à idolatria é dom. Gratuidade é o outro nome do SENHOR. A cultura do ídolo odeia o dom. É o seu primeiro inimigo na face da terra, porque o ídolo ‘sabe’ que o contacto com o espírito de gratuidade o levaria à morte, retirar-lhe-ia o seu poder encantatório. Quando se criam reinos idolátricos, a primeira operação dos faraós é, pois, tentar eliminar do seu espaço ‘sagrado’ todos os vestígios de verdadeiro dom; e preencher completamente esse espaço com objetos e produtos do mercado, apenas. No nosso tempo tenta-se chegar a essa supressão banalizando e ridicularizando a gratuidade, considerando-a uma reminiscência infantil de adultos mal formados. Seguidamente, é transformada nas prendas do faraó, nos descontos que ele faz, em fidelity cards e presentes inócuos, que apenas são permitidos durante as suas ‘festas’. Mas a tentativa mais súbdola de expulsão da gratuidade é confiná-la em organizações sem fins lucrativos, confiar o seu monopólio a instituições filantrópicas ou patrocinadores que, como o bode expiatório, tomam sobre si todo o dom-gratuidade do povoado, levam-no para fora e fazem-no morrer no deserto.
E, desse modo, a aldeia fica em silêncio. O ídolo não fala. Então, os seus adoradores acabam por perder também eles o dom da palavra. É sempre arrepiante o silêncio ensurdecedor que reina nas salas de máquinas de jogo que estão a invadir as cidades; ou nos balcões de tabacarias, das estações de serviço, bares e até mesmo nos correios: homens e mulheres – muitas, e grande parte delas bastante idosas – ‘raspando’ em religioso silêncio e solidão sem esperança; presos em trabalhos forçados por novos faraós sem piedade. “Mas eles, apesar de dourados e prateados, são falsos e não podem falar” (Baruc, 6,7). É por isso que a palavra do SENHOR tem valor infinito; não é um ídolo, precisamente porque fala; não é uma imagem, é uma voz capaz de escutar a nossa voz e o nosso grito.
No dia em que toda a gratuidade fosse confiada exclusivamente a especialistas, separando-a da vida ordinária da cidade e das empresas, o império idolátrico/separador estaria completo. Quando cada banco tiver a sua fundação, quando as multinacionais do jogo e das armas financiarem os tratamentos das suas vítimas, o veneno (gift) injetado como vacina no corpo capitalista atingirá o seu objetivo; estaremos finalmente livres da gratuidade. O novo culto seria total, em todas as horas de todos os dias. Mas isso não irá acontecer, porque a gratuidade tem uma grande resiliência; está radicada na parte mais profunda e verdadeira do coração humano. Será a invencibilidade da nossa vocação à gratuidade que, mais tarde ou mais cedo, fará ruir os impérios. É nessa invencibilidade que está a nossa esperança de o conseguir hoje, também.
A primeira prova dos hebreus fora do Egito foi o aparecimento dos cavalos e carros dos egípcios: “os israelitas ficaram cheios de medo e pediram auxílio ao SENHOR. E disseram a Moisés: «Foi por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para virmos morrer neste deserto? Porque nos fizeste isto? Não te dizíamos nós no Egito que nos deixasses para continuarmos a ser escravos dos egípcios? Era melhor sermos escravos deles do que morrermos neste deserto»" (14,10-13).
Começam aqui as ‘lamentações’ e ‘murmurações’ do povo libertado da escravidão do Egito; há-de levar muito tempo para se libertar da recordação do Egito e das vantagens da escravidão. Compreende imediatamente que em liberdade o risco de morrer aumenta (“não havia sepulcros no Egito?”). A possibilidade de morrer torna-se mais próxima. Fora dos campos de trabalho experimenta-se, paradoxalmente, uma maior vulnerabilidade; em todas as formas de escravidão cria-se uma espécie de aliança entre opressor e oprimidos: a vida do escravo é mantida porque ele deve produzir tijolos. Nenhum patrão racional (e os impérios são-no) mata o seu instrumento de lucro; tem vantagem em explorá-lo até ao fim. É por isso, também, que quem tiver medo de arriscar a vida não liberta ninguém – sabem-no bem os mártires de hoje, como o sabiam os mártires de outros tempos.
A liberdade é um ‘bem’ delicadíssimo e complexo. Quando se vive na escravidão procura-se, deseja-se, cobiça-se a liberdade; mas mal se fica livre descobre-se que também a nova condição tem custos, tem os seus sofrimentos e trabalhos típicos. E então, quase sempre se acaba por lamentar a perda da escravidão e dos seus ‘bens’ (amplificados e idealizados durante as dificuldades da liberdade).
A principal dificuldade de quem vive ou acompanha processos de libertação é permanecer livre após ter sido libertado: o período passado na escravidão não prepara para a gestão trabalhosa da liberdade real. É difícil libertar-se de uma relação patológica com um homem violento; ainda mais difícil é resistir e não voltar para ele durante as noites de solidão e lágrimas (“é melhor sermos escravos deles do que morrermos neste deserto”). Tinha sido dificílimo emancipar-se dos caciques que garantiam a adjudicação de trabalhos à empresa que herdei da família; mais difícil ainda é não ir hoje bater àquelas antigas e seguras portas, quando a crise económica é forte, o trabalho não existe, e os egípcios estão quase a apanhar-nos (“Não te dizíamos nós, no Egito, que nos deixasses para continuarmos a ser escravos dos egípcios?”). São muito longos os processos de verdadeira libertação, e uma vez fora da terra da escravidão está-se apenas no início do caminho. Sem um ‘Moisés’ (um amigo, uma associação, uma instituição pública, uma mãe, um filho …) que continua a acreditar na promessa e no valor da libertação – acreditando também por nós – muitas vezes acabamos por voltar à escravidão.
O livro do Êxodo é, pois, um grande exercício espiritual e ético, não apenas para quem inicia uma libertação, mas também para quem precisa de resistir na liberdade, percorrer longos caminhos depois da saída do Egito. Por este motivo, também, o Deus bíblico não é o deus do espaço (são os ídolos que ocupam o espaço); é o Deus do tempo, chama-nos a sair, a caminhar através de desertos em direção a uma promessa que sempre está para além dos confins das nossas certezas e dos nossos medos.
Esta primeira prova do povo e de Moisés junto ao mar, contém ainda uma lição que se dirige de modo muito especial a quem funda (mas também a quem deve continuar) comunidades, obras, movimentos, organizações inspiradas por ideais. Responde-se a um chamamento, inicia-se um grande processo de libertação para si mesmo e para muitos outros, parte-se e segue-se a via do mar. Mas no final da noite da libertação não se acha uma via de salvação, mas um muro que parece impossível de passar. O faraó persegue-nos, o mar fecha-nos a passagem e até o povo que salvámos protesta e parece querer voltar atrás, anulando o sentido e o sofrimento daquela história de salvação. Estas solidões fiéis são as provas típicas dos fundadores; ultrapassa-as quem for capaz de fazer como Moisés: “Não tenham medo!” (14,10-13). Também Moisés deve ter tido medo, talvez até mais que os outros, mas foi capaz de dar coragem e ânimo: “Não tenham medo”. Estas provas atingem toda a comunidade (todos têm medo), mas o fundador/responsável vive uma prova a dobrar: tem medo, como todos, pela possível morte iminente e o abandono por parte da comunidade. Consegue-se não morrer e atravessar o mar se pelo menos “Moisés” continuar a acreditar, a esperar, a resistir, sentindo e atuando na direção oposta à que a comunidade amedrontada parece querer seguir.
Há momentos decisivos na vida de comunidades e instituições nos quais a salvação só chega se os responsáveis tiverem a capacidade-virtude de não ceder, de não ir atrás dos medos coletivos, de remar contra a corrente, de resistir ao desânimo do povo, de continuar a acreditar na promessa que o temor iminente e realíssimo está aa apagar. Quem governa procurando sempre o consenso de todos ou da maioria do povo, poderá ser um bom líder na vida ordinária dos ‘campos de trabalho’, mas não salva ninguém em momentos de grandes provas coletivas; é precisa, então, a sabedoria de resistir com esforço e na solidão indo em direções diferentes das que a comunidade amedrontada e murmuradora aponta. Esta capacidade-sabedoria de continuar a seguir obstinadamente uma direção contrária é especialmente preciosa também para o político em tempos de grande crise; é uma arte toda ela gratuidade; é por isso muito rara em tempo de idolatria.
A quem, apertado entre os egípcios e o povo, for capaz de resistir pode acontecer que assista ao milagre do mar: de muro alto transforma-se em portão aberto para a terra da promessa: “...o SENHOR transformou o mar em terra seca. Por ali atravessaram os israelitas, entre duas muralhas de água, uma à direita e outra à esquerda” (14,21-22).
Todos os comentários de Luigino Bruni publicados em Avvenire estão disponíveis no menu Editoriais Avvenire