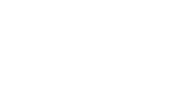As parteiras do Egito/13 - Deus fala-nos, recorda a nossa liberdade. Os ídolos escravizam-nos
por Luigino Bruni
publicado em Avvenire 02/11/2014
 “O Senhor falou-vos do meio do fogo e ouviram a sua voz, mas não viam ninguém”
“O Senhor falou-vos do meio do fogo e ouviram a sua voz, mas não viam ninguém”
(Deuteronómio 4, 12)
A história humana não é uma linha reta uniforme e monótona. Alguns acontecimentos têm a força de curvar o tempo, de dobrar a sua trajetória, de quebrá-la, por vezes; abrem assim novas dimensões à aventura humana. A voz do Sinai é um desses acontecimentos. As palavras então ditas e doadas a um povo de ex-escravos libertados, peregrinos no deserto, deram início a uma nova época moral e religiosa da humanidade. Uma era ainda por realizar, que sempre estará incompleta. Que por isso sempre está diante de nós, nos espera e nos chama.
Nas encostas do Sinai falam, dialogam entre si, a terra toda e todo o céu. O Adam, a árvore da vida, Abel, Caim e Lamec, Noé, Abraão, Agar, Jacob, o Jaboc, a túnica de José, as parteiras, as mulheres, as pragas, o mar aberto, Miriam, o manã, Jetro. Estão todos lá agora, com o povo, diante do Sinai. As palavras do Sinai não são a legislação de um povo (Israel). São a lei ética universal, as palavras primeiras para quem quiser ser e permanecer humano, livre, caminhando para uma promessa: “Deus pronunciou depois as seguintes palavras: ‘Eu sou o SENHOR, teu Deus [Elohim], que te fez sair do Egito, da terra da escravidão’” (Ex. 20,1-2). Já o tinha dito, na sarça ardente; mas agora tem uma solenidade nova e um caráter definitivo; o Elohim, a divindade, revela ao povo o seu nome: o nome da voz é SENHOR. Houve sempre, e ainda as há, experiências religiosas que se detêm no Elohim, numa ‘fé’ na existência de um Deus que está algures. Mas se não chegar o dia em que essa divindade genérica nos revela o seu nome, a fé não mudará a nossa vida e ainda menos a vida dos outros. A fé bíblica é fé-confiança-fidelidade numa voz com nome, que chamou pelo nome os seus profetas e que o homem pôde chamar pelo nome. Fora deste ‘encontro de nomes chamados’, quando muito existe apenas a fé intelectual da filosofia ou a não-fé nos ídolos.
O SENHOR apresenta-se como o libertador da escravidão. Podia dizer muitas outras coisas (‘sou o Deus de Abraão, o criador do mundo, o que deu o manã no deserto’ …); mas disse apenas ‘Eu sou o SENHOR, teu Deus, que te fez sair do Egito’. Basta esta breve introdução para dar conteúdo ao nome de Elohim. Não se compreendem as palavras do Sinai, a Torá (Lei), talvez mesmo toda a Bíblia, se não forem lidas na perspetiva dos campos de trabalho forçado do Egito e da libertação: “Não faças para ti imagens esculpidas … Não te inclines diante de nenhuma imagem nem lhes prestes culto” (20,4-5). Não ‘prestes culto’ (‘bd, servir) aos ídolos porque foste libertado da condição ‘de servo’ (‘bd). Se for verdadeira, a libertação é uma só.
Este mandamento anti-idolátrico é uma grande revolução religiosa e antropológica; é um dom imenso para a defesa de qualquer liberdade. Com o primeiro mandamento, a Bíblia não quis apenas separar o SENHOR dos outros deuses adorados pelos povos cananeus (“não tenhas outros deuses além de mim” (20,3)); pretendeu e teve que fazer todos os possíveis para evitar que até o seu Deus fosse transformado em ídolo pelo povo – o que, aliás, nunca conseguirá inteiramente. A proibição de representar a figura de Deus é algo de inédito que brota na história da humanidade no Sinai; não se encontra em mais nenhum outro culto da região. E é maravilhoso, porque mostra que unicamente o olhar da fé é capaz de dar forma visível à voz. Um Deus que se vê não precisa da fé; é um ídolo, portanto. O Deus bíblico se for visto desaparece; o homem que o vir morrerá, porque no momento em que é visto torna-se obra das mãos humanas ou neurose; ou ambas as coisas. O mandamento anti-idolátrico é o mais transcendente, mas é também o que está mais centrado na experiência humana. O homem é um animal espiritual e religioso; para viver não lhe bastam a terra e as coisas visíveis. Quer também o invisível. Por natureza corre, portanto, o perigo de idolatria, dentro e fora das religiões porque o ídolo é simultaneamente doença e sucedâneo de experiência religiosa.
O Deus bíblico é uma voz que fala e revela o seu nome. Mais não poderia fazer para nos ajudar a não ficar escravos dos ídolos. Mas também não poderia fazer menos porque o SENHOR é um Deus próximo que por natureza comunica e fala. Falando e revelando o seu nome, no entanto, torna-se vulnerável e exposto a abusos. Daí a terceira palavra-mandamento: “Não faças mau uso do nome do SENHOR” (20,7). A Bíblia não é um dos tantos textos de cultos esotéricos, cujo objetivo é confinar o divino num espaço sacro inacessível, ou acessível apenas a profissionais do culto. A Bíblia é uma re-velação, retira o véu a Elohim que, de divindade muda e longínqua, se torna próximo, fala, e até diz o seu nome, a sua natureza íntima. Também o conhecimento do nome pode levar à idolatria: o SENHOR pode também ser reduzido a ídolo manipulando o uso do seu nome.
Todas as formas de magia usam os nomes procurando gerir as divindades. O nome é também rosto; pode assim ser usado para construir imagens, para o invocar ‘em vão’. A violação do terceiro mandamento do nome é uma forma de idolatria típica do homem religioso, que conhece o nome de Elohim. A experiência religiosa autêntica é sempre sóbria no uso do nome de Deus. A sobriedade no léxico religioso é uma nota de autenticidade bíblica. Quando Deus e o seu nome são ‘usados’ demais e em vão acabam por ser ‘abusados’, a experiência religiosa transforma-se pouco a pouco em idolatria. Por detrás da proibição de abusar do nome de Deus esconde-se, uma vez mais, o grande tema da gratuidade (que é a anti-magia). O Deus bíblico não é ídolo porque é gratuidade total. Se verdadeiramente o quisermos encontrar e não deparar com um ídolo estúpido, teremos então que nos mover dentro das coordenadas da não-idolatria e da gratuidade.
Dentro destas coordenadas compreende-se também o sábado: “Recorda-te do dia de sábado para o consagrares ao SENHOR. Podes trabalhar durante seis dias, para fazeres tudo aquilo de que precisares. Mas o sétimo dia é dia de descanso, consagrado ao SENHOR, teu Deus. Nesse dia, não faças trabalho nenhum, nem tu nem os teus filhos e filhas, nem os teus servos e servas, nem os teus animais, nem o estrangeiro que viver na tua terra” (20,8-10).
Se a proibição de reproduzir imagens é inédita, igualmente inédito e espantoso é o mandamento sobre o sábado. Apenas um povo que conservara vivíssima a memória da escravidão do Egito e do Exílio na Babilónia, mais tarde, podia compreender o valor do sábado, colocá-lo no centro do Decálogo, erguê-lo como parede mestra da sua civilização. A escravidão, a servidão, o trabalho forçado, são negação do homem também porque negam o repouso, a festa, o valor do não-trabalho. O desconhecimento do valor do sábado evidencia a natureza idolátrica do capitalismo tal como hoje o vivemos. A lógica do lucro não conhece descanso; e por isso já não reconhece o que é verdadeiramente humano. Chega assim a pedir às mulheres óvulos para congelar, a troco de dinheiro. A experiência do não-repouso do trabalho forçado no Egito foi de tal modo forte e fundamental que no centro da teofania do Sinai e da nova lei do mundo foi inserido um mandamento sobre o ‘não-trabalho’ e o repouso. De tal modo forte e fundamental que se estende a todos os seres humanos, aos animais, a toda a criação; para além do status, das assimetrias dos outros seis dias. A fraternidade entre os habitantes da terra só é possível num mundo liberto de ídolos.
A nota dominante da primeira parte do Decálogo, então, é o Adam libertado e, nele, a libertação da terra. É o ‘ciúme (‘não tolero que tenham outros deuses...’ 20,5) por esta obra-prima e vértice da criação que inspira aquelas primeiras palavras: foste libertado do Egito, não regresses à escravidão dos ídolos. Os ídolos não conhecem nem reconhecem o sábado; muito menos o domingo. O culto dos ídolos é perene e com ele a nossa escravidão.
Há por fim uma ligação explícita e forte entre o Sinai e os primeiros capítulos do Génesis. Não só “Porque durante os seis dias o SENHOR fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, mas descansou no sétimo dia” (20,11). Aliás, a raiz mais profunda da proibição de fazer imagens de Deus é a natureza do Adam: a imagem de Deus é o ser humano; apenas nele se pode encontrar um reflexo verdadeiro do SENHOR. Se quiseres encontrar uma imagem verdadeira do Deus bíblico, procura-a no André quando está a trabalhar na sua oficina, na Fátima que perdeu o trabalho que tinha na sala de partos do hospital da tua cidade, na Joana, doente terminal de Alzheimer internada noutra secção daquele hospital. E em todos os crucifixos. Não se encontra em todo o universo melhor imagem de Deus.
É a partir do Adam, imagem e semelhança do Elohim que se revelou como SENHOR, liberto dos ídolos e do trabalho-forçado, amado com ciúme, que se deve ler a segunda parte do Decálogo: “Respeita o teu pai e a tua mãe, para que vivas muitos anos na terra que o SENHOR, teu Deus, te vai dar. Não mates. Não cometas adultério. Não roubes. Não faças uma acusação falsa contra ninguém. Não cobices a casa do teu semelhante: não cobices a sua mulher nem … coisa nenhuma que lhe pertença” (20,12-17). Se o homem é a única possível imagem de Deus, porque a única verdadeira, então deve ser honrado, não deve ser morto; deve ser respeitado, não deve ser atraiçoado nas suas relações fundamentais.
As ‘dez palavras’ do Sinai continuam diante de nós. Todos os dias são esmagadas por muitos pés; os ídolos multiplicam-se, o que vai reduzindo a nossa liberdade. Mas aquela imagem não se apagou, a aliança do Sinai não foi revogada. Não pode ser vã a esperança que temos na era de fraternidade.
Todos os comentários de Luigino Bruni publicados em Avvenire estão disponíveis no menu Editoriais Avvenire