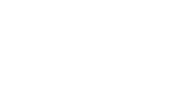Oikonomia / 1 – Evidências e perguntas sobre o espírito do capitalismo e suas relações parasitárias
Original italiano publicado em Avvenire em 12/01/2020
«Se quiséssemos definir a civilização humana com uma expressão densa, poderíamos dizer que ela é o poder formal de transmitir “valor” ao que, na natureza, corre para a morte»
Ernesto de Martino, Morte e pianto rituale nel mondo antico
Inicia-se uma nova série de artigos sobre a relação entre capitalismo e religião, entre cristianismo e oikonomia. Quanto e que coisa dos valores cristãos entrou no atual capitalismo? E o cristianismo é só o seu ninho?
O século XIX deixou-nos, em herança, uma rica e dura discussão sobre o capitalismo. Foi algo maior e diferente de um debate intelectual ou académico. Foi sangue e carne, vida e morte, paraíso e inferno. Os críticos do capitalismo sempre foram muitos. Mas o capitalismo mostrou uma surpreendente capacidade de adaptação ao mudar as condições de contexto. Soube mudar de forma absorvendo as exigências dos seus críticos e, como todos os grandes impérios, tornou-se maior e mais forte com os inimigos englobados nas suas fileiras e na sua cultura. Mudou ao ponto de hoje, a própria palavra “capitalismo” ter perdido força – continuou a usá-la por falta de palavras melhores. Porém, nestes ultimíssimos anos, algumas mudanças globais, dramáticas e repentinas, complicaram os cenários, mas também reduziram fortemente e simplificaram as discussões sobre a valorização ética deste capitalismo. Porque é muito evidente que, no que diz respeito a algumas variáveis fundamentais da vida individual e social, o capitalismo não manteve as suas promessas de progresso e bem-estar. O estado de saúde dos bens comuns, dos bens relacionais e da Terra mostram já, clara e concordantemente, que existe uma incompatibilidade radical entre a sua salvaguarda e a lógica capitalista. Destas perspetivas, cada vez mais determinantes, não está a aumentar nem a riqueza das nações nem a felicidade pública. Acerca disto, não há mais nada de sério a discutir. Devemos, simplesmente, mudar a lógica, precisamos de novos paradigmas e, sobretudo, temos de agir rapidamente: o tempo acabou, ou estamos em plena “zona Cesarini” do planeta e das comunidades humanas.
O capitalismo conheceu valorações muito diferentes, também no interior das Igrejas cristãs e do catolicismo. Um tema constante dizia (e diz) respeito à pretensa natureza cristã do espírito do capitalismo. Que capitalismo seja, de algum modo, “cristão” é tautológico, sendo algo nascido e crescido na Europa e dizer Europa significa dizer, até há poucas décadas, essencialmente cristão. Nesta perspetiva, “cristãos” eram a modernidade e o iluminismo, mas também o fascismo e o comunismo. Mas, ao dizer isto, não dizemos nada. Por isso, não ajuda muito, parafraseando o célebre incipit de “Teologia política” de Carl Schmitt (1922), afirmar que todos os conceitos mais significativos da economia moderna são conceitos teológicos secularizados. As coisas mais interessantes começam quando experimentamos colocar, a nós mesmos, perguntas “segundas”: do cristianismo, o que é que, entrou no capitalismo? O que ficou de fora? Como entrou? A nova série de artigos que hoje começamos é uma tentativa de resposta a estas (e outras) perguntas. Antes, porém, temos de tomar consciência que a história da relação entre cristianismo e economia é verdadeiramente complexa, provavelmente mais complexa que aquela que nos relatou, quem escreveu, até agora, sobre este tema. Antes de mais, porque as categorias teológicas (cristã e bíblicas) que a modernidade transformou, secularizando-as, em categorias políticas, foram, por seu lado, influenciadas por categorias económicas. A teologia que inspirou a economia fora, antes, inspirada pela economia. Trabalhando, nestes anos, sobre economia, Bíblia e teologia, descobrimos entrelaçamentos improváveis e imprevistos entre estes âmbitos da vida e, no princípio, com notável admiração, afirmámos várias vezes que o primeiro homo oeconomicus foi o homo religiosus. O do ut des, antes de ser a regra de ouro do comércio, foi a lei férrea dos sacrifícios oferecidos aos deuses: “Eis a minha manteiga; onde estão os Teus dons?”, encontramos no ritual bramânico das ofertas no templo. Muitas das categorias, sobre as quais, na modernidade, se fundou, progressivamente, a ciência económica – como preços, trocas, valores, débitos, crédito, mérito, ordem, dom, tributo, prémio, a própria oikonomia – foram herdadas da religião e do humanismo medieval hebraico-cristão; mas se aprofundarmos mais, damo-nos conta que essas categorias teológico-religiosas, por seu lado, se tinham formado numa troca constante com a vida económica das comunidades. Nas raízes das sociedades antigas, encontramos moedas nos sarcófagos, para acompanhar os mortos para pagar o preço da entrada do além, ou a linguagem económica aplicada às culpas, às dívidas, às penitências. A própria Bíblia hebraica e, depois, os Evangelhos e Paulo, fazem uso abundante de imagens e linguagem económicas para falar da fé. Estamos dentro duma contaminação recíproca, onde não é fácil compreender quem influenciou quem, ou qual seja a direção do nexo causal.
A tese mais provável é que, com a revolução agrícola, os comércios e as religiões se desenvolveram juntas e que o matrimónio entre a economia e o sagrado tenha acontecido naturalmente, na aurora das grandes civilizações. O nascimento e o desenvolvimento das moedas são acontecimentos à volta dos templos, foram usadas para medir sacrifícios, culpas e méritos e, a partir daí, o seu uso, progressivamente, foi-se alargando ao âmbito económico profano. O latim pecus (rebanho), donde deriva pecúnia, indicava, inicialmente, as cabeças de animais oferecidos nos sacríficos, contados e contabilizados nas relações comerciais com a divindade. Era o sagrado a oferecer o contexto necessário de confiança-fé para que as moedas pudessem ter o seu curso. O primeiro lugar de valoração de “coisas” – animais e plantas – destinadas, por natureza, à morte, foi o altar: apresentá-las, em oferta ritual, exonerava-as da sorte ordinária dos mortais. Chegando, depois, à relação entre cristianismo e capitalismo, devemos ter muito presente que a ética económica que informou a christianitas medieval, era mais semelhante à cultura económica do Império Romano tardio que aos princípios evangélicos. Veremos que a operação que, hoje, o capitalismo está a fazer com o cristianismo (ocupar o seu lugar), já o cristianismo o tinha feito, a partir dos séculos IV-V, com a religião e a ética dos romanos - apenas com a diferença que, na segunda substituição, não houve séculos de perseguições e martírio: o Constantino do capitalismo foi Nero ou Herodes, porque acolhido com entusiasmo desde o seu primeiro aparecimento. Então, as perguntas complicam-se: que ética económica cristã teria entrado, então (supondo que entrou), no capitalismo moderno? Entrou mais Cícero ou mais o Evangelho, mais a ética estoica das virtudes ou a das bem-aventuranças?
Na nossa investigação não partiremos nem de Max Weber nem de Amintore Fanfani ou Giuseppe Toniolo, mas de um filósofo alemão, Walter Benjamin, muitas vezes encontrado e discutido nestes anos de exploração. Num brevíssimo e profético texto, “O capitalismo como religião” (1921), diferentemente de Schmitt, Benjamin não fala, para o capitalismo, de “secularização” das categorias teológicas, mas de uma nova religião: «No Ocidente, o capitalismo desenvolveu-se parasitariamente sobre o cristianismo… O cristianismo, na época da Reforma, não facilitou a ascensão do capitalismo, mas virou-se capitalismo». Aqui, encontramos dois conceitos-imagens em tensão. Porque, por um lado, Benjamin afirma que o capitalismo é um parasita do cristianismo; por outro lado, diz que o cristianismo se tornou, como numa metamorfose, capitalismo. Ambas imagens fortes que, embora tomadas apenas como primeira aproximação, nos obrigam a exercícios que poderão revelar-se frutuosos. Frutuosos e parciais, frutuosos porque parciais. De facto, poder-se-ia dizer outras coisas interessantes, partindo da tese de Weber ou de outros autores mais “clássicos”. O parasita e a metamorfose são imagens extremas e, por isso, muito discutíveis. Mas, como frequentemente (nem sempre) acontece, se bem usadas, as metáforas extremas podem mostrar aspetos da realidade mais produtivos do que as metáforas moderadas.
Levamos, por isso, muito a sério a tese de Benjamin, preferindo, no entanto, a metáfora do parasita à da metamorfose. Pela biologia, sabemos que a metamorfose consiste na transformação que o próprio inseto (ou organismo) sofre, passando a fase larval à fase adulta. A lagarta torna-se borboleta, porque o processo está inscrito no ciclo de vida do inseto. O parasitismo, pelo contrário, é um fenómeno profundamente diferente, que assume, por seu lado, muitas formas. A palavra nasce na Grécia, para descrever alguns comportamentos sociais, como o gozar de benefícios sem ter custos, como os aproveitadores que se infiltravam nos banquetes públicos. O parasitismo é muito diferente do mutualismo da simbiose. A simbiose é um “jogo a custo positivo”, enquanto o parasitismo é um “jogo a custo zero”, uma relação desarmónica, porque o parasita alimenta-se à custa do hóspede, sem reciprocidade nem benefícios. Portanto, o parasita não só usa o hóspede para se alimentar, mas utiliza-o como seu “nicho ecológico”, ao qual confia uma tarefa reguladora das suas relações com o exterior (o vírus não tem o aparelho para a sua reprodução). Em certos casos (chamados parasitoides), a assimetria é radical e a relação termina com a morte do hóspede. Porque, aos parasitas, falta a inteligência para compreender que matar o corpo que o hospeda vai contra o sue próprio interesse; mas, no decorrer da sua evolução, alguns alargaram o seu ciclo de vida no hóspede – matam-no mais lentamente: nenhuma sanguessuga inteligente quer a morte dos organizadores dos banquetes.
A relação entre capitalismo e cristianismo contém elementos de todas estas formas de parasitismo, inclusive a alargamento da vida do seu hóspede a fim de continuar a nutrir-se dele; como contém outros elementos não tomados da metáfora do parasita – existem aspetos de mutualismo e até mesmo de filiação. A metáfora do parasita não nos mostra tudo, mas permite-nos descobrir algo de novo. Entre as muitas formas possíveis de parasitismo, o parasitismo do cuco é muito útil como instrumento para investigar o nexo cristianismo-capitalismo. O cuco pratica o parasitismo de incubação: põe o seu ovo no ninho de outros pássaros (a toutinegra, ou o rouxinol, por exemplo) e o pássaro hóspede, sem o saber, choca-o por causa da semelhança entre aquele ovo estranho e os seus próprios ovos. Na eclosão, o pequeno cuco livra-se dos outros ovos presentes no ninho, tornando-se o único ocupante. O pássaro mãe alimenta o pequeno cuco como se fosse a sua própria cria. Um dos muitos erros de que se serve a lei da vida. O capitalismo-cuco depôs o seu ovo em muitos ninhos cristãos (católicos, luteranos, calvinistas, anabatistas...). Não o depositou em ninhos de outras religiões porque teriam sido rejeitados imediatamente. O cristianismo criou o ovo capitalista porque se assemelhava muito e esta grande semelhança das cascas enganou as mães. Criaram-no e protegeram-no durante séculos, no longo tempo em que os ovos pareciam todos iguais. Até que, apenas recentemente no tempo da eclosão, aquele pássaro diferente e maior, está a começar a mandar fora do ninho os outros passarinhos meios-irmãos. Mas, como na natureza, esta mãe, encontrando-se apenas com este único filho, alimenta-o, ignorante da substituição e do engano. Porque a vida é maior e transforma em valor o que deveria morrer. Não é o filho da toutinegra, mas é filho do mesmo bosque.