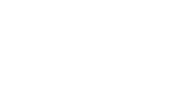Oikonomia / 3 – Ricos e pobres: assim, o cristianismo adotou a possível ética romana
Original italiano publicado em Avvenire em 26/01/2020
«Acreditam possuir enquanto são possuídos, não donos do dinheiro mas vendidos a ele»
Cipriano, De lapsis
Quanto entrou dos evangelhos na ética económica europeia? Não muito. E Santo Agostinho desempenhou um papel determinante.
O capitalismo está a fazer com o cristianismo algo de parecido ao que o cristianismo tinha feito com o império romano quando, a partir do século IV, se substituiu à sua cultura e à sua religião, alimentando-se delas. Portanto, se dizemos – seguindo, de bom gosto, Walter Benjamin – que o capitalismo cresceu, como «parasita» do cristianismo, temos de dizer que, muitos séculos antes, fora o cristianismo a crescer, no sentido que veremos, como parasita do mundo romano, colocando o seu ovo num outro ninho.
Partamos duma pergunta: o que é que, da visão económica dos Evangelhos e do Novo Testamento, entrou na christianitas medieval e, assim, na ethos do Ocidente? A ética económica, no Novo Testamento, não é simples. Porque nunca foi fácil juntar a parábola dos talentos com a do trabalhador da última hora, a ética do «bom samaritano» com a do «administrador desonesto», onde – a única vez nos Evangelhos – aparece a palavra oikonomia. Jesus chamava «felizes» aos pobres, mas ele não era “tecnicamente” um pobre e não excluía os ricos do seu grupo (Mateus, Zaqueu, José de Arimateia…). Algumas palavras sobre bens e riquezas ocuparam, imediatamente, um lugar especial. A primeira é o relato do «homem rico» (conhecido como «jovem rico») onde Jesus, para responder à sua pergunta para «obter a vida eterna», indica-lhe a «única coisa» ainda em falta: «Vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres; depois, vem e segue-me». Depois, perante a sua recusa, formula uma das suas frases “económicas” mais célebres – a do rico, o camelo e o buraco da agulha (Marcos 10, 18-22). Uma visão crítica da riqueza, que se liga à grande tradição profética bíblica (Amós, Isaías), a Job e a Qohélet. Ao mesmo tempo, devemos ter presente que a crítica da riqueza contrasta com a outra alma muito presente na Bíblia, a que lê os bens como bênção de Deus e como sinal de justiça das pessoas (por exemplo, Abraão e os patriarcas).
O outro grande lugar “económico” do Novo Testamento é o capítulo quarto dos Atos dos Apóstolos, onde se descreve a comunhão de bens dos cristãos de Jerusalém: «A multidão dos que haviam abraçado a fé tinha um só coração e uma só alma. Ninguém chamava seu ao que lhe pertencia, mas entre eles tudo era comum» (4, 32). Aqui, com a comunhão, encontramos a distinção entre uso e propriedade dos bens que, séculos depois, se tornará central, no movimento franciscano. Deve-se porém referir uma diferença importante entre a visão da pobreza/riqueza que brota do episódio do jovem rico, dos Evangelhos e a apresentada nos Atos. Ali, o convertido à boa nova dava os seus bens aos pobres e entrava na comunidade cristã como pobre (por escolha). Na comunidade de Jerusalém, pelo contrário, «não havia ninguém necessitado, pois todos os que possuíam terras ou casas vendiam-nas, traziam o produto da venda e depositavam-no aos pés dos Apóstolos. Distribuía-se, então, a cada um conforme a necessidade que tivesse» (4, 34-35). Aqui, os bens não eram dados aos pobres; o destaque é colocado na redistribuição interna na comunidade. Mais que a pobreza em si, é a comunhão intracomunitária a ser colocada no coração da Igreja, porque o ideal era: “ninguém necessitado” entre os fiéis.
Por fim, as cartas de Paulo. Aqui, é atribuído um espaço importante à “coleta” para ajudar os «santos» (expressão belíssima) da Igreja de Jerusalém. O seu pensamento está centrado no conceito de igualdade: «Não se trata de, ao aliviar os outros, vos fazer entrar em apuros, mas sim de que haja igualdade. No momento presente, o que vos sobra a vós supera a indigência dos outros… Assim haverá igualdade» (2 Coríntios 8, 13-14). Estamos na mesma linha dos Atos: o centro não é a pobreza, mas a comunhão de bens. Portanto, no Novo Testamento, se se excetua a (fundamental) página das Bem-aventuranças, interessa a atitude em relação à riqueza, não tanto a pobreza. Se, depois, olharmos também para a literatura dos Padres da Igreja, encontramos frequentemente este duplo ensinamento nas relações com a riqueza: libertar-se dos bens é pré-condição pessoal para começar uma nova vida onde os verdadeiros bens são outros (é preciso esvaziar os celeiros para acolher o trigo novo), mas a mesma riqueza também é necessária para poder reduzir a pobreza na comunidade. Escrevia Clemente de Alexandria: «O Senhor aprova o uso das riquezas, a ponto de ordenar a comunhão dos bens» (Quis dives salvetur).
Depois, com o fim da época primitiva e carismática da Igreja, a difusão do cristianismo determinou, naturalmente, a chegada crescente de pessoas abastadas às comunidades. Foi significativo um episódio, acontecido em Roma, entre os anos 304 e 305 (Vita Melaniae). Dois jovens esposos cristãos, Valério Piniano e Melania a Jovem, tinham um grande património. Atraídos pela vida eremítica, começaram a desfazer-se da sua enorme riqueza para viverem uma vida de pobreza, na Sicília, e depois em Jerusalém, para imitar a vida pobre dos primeiros cristãos. Os esposos libertaram 8.000 escravos e venderam as propriedades. Os escravos contudo protestaram e revoltaram-se com esta decisão, pois se encontravam sem qualquer proteção e muitas terras foram abandonadas. Um episódio que contribuiu para o debate sobe pobreza e riqueza, que envolveu muitos teólogos entre os séculos IV e V. Estamos depois do Édito de Milão, e o cristianismo estava a ocupar, pouco a pouco, no povo, o lugar da religião romana. Era preciso algo de novo. Foi Agostinho a oferecê-lo.
Regressado a África, Agostinho estava muito interessado na unidade do povo cristão e, assim, foi obrigado a uma «certa reticência na relação com os ricos» (Peter Brown), certamente maior que a de Paulino de Nola, Jerónimo e Ambrósio. Com Agostinho, acentuou-se a leitura moral das parábolas e dos episódios “económicos” de Jesus, já presente nos primeiros Padres e as riquezas de que é preciso desfazer-se tornam-se as paixões más. A riqueza, em si, é boa, mas está sujeita, como todos os bens, à corrupção. A Agostinho interessa, sobretudo, a concórdia, a filantropia, a esmola, a ordem e o amor civicus romano. E, assim, retoma quase completamente a ética romana clássica, inclusive a ideia que os ricos eram necessários para a gestão do poder e do bom governo. A complicar tudo isto esteve também o papel de Pelágio, um “herético” contra quem Agostinho travou uma duríssima batalha teológica. Apesar de o centro daquela grande polémica ser o tema da graça e da riqueza, Pelágio e os seus seguidores desenvolveram, também por influência da filosofia estoica, uma visão negativa radical em relação à riqueza que se enraíza particularmente nas elites romanas. Como consequência da teologia pelagiana da salvação ligada às obras, os ricos, para se salvarem, deveriam renunciar a todos os seus haveres (como Piniano e Melania) e, assim, procurar passar no buraco da agulha: «Um rico que permaneça na posse das suas riquezas, não pode entrar no Reino» (De divitiis). É a renúncia voluntária à riqueza a obra que nos salva. E, depois, acrescenta, claramente em polémica com Agostinho: «E não pode ajudá-lo em nada, na garantia da salvação, usar as suas riquezas para a esmola». Os pelagianos tentaram também uma análise da morfologia e da origem da riqueza, chegando a conclusões muito fortes: «A riqueza dificilmente pode ser adquirida sem qualquer injustiça» (De divitiis).
A batalha teológica foi vencida por Agostinho e, juntamente com a teologia de Pelágio, foi derrotada também a sua visão da riqueza: «Se os ricos forem virtuosos, não se preocupem: quando chegar o último dia, estarão na Arca» (Agostinho, Sermo Dolbeau). E, assim, o lugar do princípio pelagiano - «Acaba com os ricos e deixará de haver pobres» - foi ocupado pelo de Agostinho: «Acaba com a soberba e a riqueza não te trará prejuízo» (Disc. sobre VT, sermo 39, 4). O camelo consegue passar porque o buraco da agulha foi muito alargado. A vitória de Agostinho orientou verdadeiramente a moral económica da Europa e, assim, a história do Ocidente.
Neste momento, temos de voltar ao “pessimismo” donde partimos. O que nós chamamos visão cristã da riqueza e da pobreza foi, em grande parte, uma herança recolhida do mundo romano. Acerca do uso da riqueza, o cristianismo medieval deixou as formas da civilização romana (quase) imutáveis. A falta, nos Evangelhos, de uma verdadeira doutrina popular sobre a riqueza (a que havia foi considerada demasiado exigente para se tornar universal) fez com que os Padres e os teólogos adotassem a ética cívica romana pré-existente que se prestava bem para se tornar ética possível para todos, ricos e pobres. Enquanto para outras dimensões da vida e da religião, o cristianismo trouxe, para a Europa, uma grande novidade, a ética económica cristã nasce de um enxerto na árvore romana (e grega) e sobre a sua ética privada e pública. De algum modo, foram mais influentes Cícero e Séneca que o “jovem rico” e a “comunhão de bens”. A assistência aos pobres, o aprovisionamento anual, a doação e a magnanimidade dos ricos, sobre os quais se constrói a cultura da riqueza e da pobreza, na Idade Média, eram, de facto, já pré-existentes e ativos no império romano tardio; os cristãos retomaram-no, mudando apenas em aspetos marginais e não os determinantes (por exemplo, a recompensa pela beneficência já não era a estátua no foro, mas o paraíso). Para poder tornar-se possível a todos, a ética económica cristã foi obrigada a pagar o preço de se tornar mais romana, a «crescer parasitariamente» sobre a ética do império romano, que se estava a desintegrar.
Por fim, há um outro aspeto relevante, ao qual voltaremos. Paralelamente à afirmação de uma ética da riqueza, possível, conciliante e moderada, naqueles mesmos séculos, começava o grande movimento do monaquismo. Naquele tempo, começou a afirmar-se a ideia que a radicalidade pedida pelos Evangelhos e pelos Atos dos Apóstolos em relação à renúncia das riquezas e da comunhão de bens pudesse, finalmente, tornar-se praxis concreta para os monges e para os mosteiros. Aos leigos, propõe-se uma ética possível para todos; nos mosteiros, porém, podiam-se rever as comunidades carismáticas dos primeiros tempos, a antiga comunhão com os pobres, a “única coisa” que falta. E sempre que, graças a um carisma, se quer voltar à radicalidade dos primeiros tempos do cristianismo, percorrem-se estas mesmas dinâmicas e reaparece a “solução” do duplo carril.
Não compreendemos a economia ocidental medieval, a reforma e, depois, a economia capitalista moderna, sem este “duplo carril” seguido pela ética económica que, se por um lado, origina o imenso movimento monacal e aos seus enormes frutos de civilização (e de economia), por outro lado faz com que a ética económica – pública e privada – da Europa cristã fosse muito, demasiado semelhante à que precedeu o cristianismo.
Quanto há de ética romana e de ética cristã no espírito moderno do capitalismo? Que Europa nasceria se a afirmar-se não estivesse a ética romana, mas a da comunhão de bens? Em que se tornaria a economia ocidental se o camelo não tivesse passado por aquele buraco tão largo?