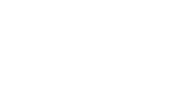Comentários - Economia, democracia, «poderes»
por Luigino Bruni
publicado em Avvenire dia 19/08/2012
 A dificuldade de entender a crise econômica, financeira, civil e política que estamos vivendo, nasce especialmente do fato que o nosso capitalismo financeiro-individualista apresenta, junto a características antigas, certas características inéditas, que fogem e impedem a muitos de entender o que está acontecendo. A leitura clássica do sistema econômico-social moderno, ou democrático, era baseada nas classes sociais, que exprime, por sua vez, as classes econômicas. A minoria que detém a riqueza – dizia-se – tem em mãos também o poder político, e o exerce com o consenso da maioria de cidadãos-trabalhadores que aceitam ser governados pelos interesses dos ricos e poderosos, porque, essencialmente, toda alternativa melhor ou não é previsível ou é considerada por demais arriscada e cara.
A dificuldade de entender a crise econômica, financeira, civil e política que estamos vivendo, nasce especialmente do fato que o nosso capitalismo financeiro-individualista apresenta, junto a características antigas, certas características inéditas, que fogem e impedem a muitos de entender o que está acontecendo. A leitura clássica do sistema econômico-social moderno, ou democrático, era baseada nas classes sociais, que exprime, por sua vez, as classes econômicas. A minoria que detém a riqueza – dizia-se – tem em mãos também o poder político, e o exerce com o consenso da maioria de cidadãos-trabalhadores que aceitam ser governados pelos interesses dos ricos e poderosos, porque, essencialmente, toda alternativa melhor ou não é previsível ou é considerada por demais arriscada e cara.
A esse propósito, assim escrevia o economista Achille Loria em 1902: «Qualquer um que observa, com a alma sem paixão, a sociedade humana (…) encontra nela o estranho fenômeno de uma absoluta, irrevogável divisão em duas classes rigorosamente distintas: uma das quais, sem fazer nada, se apropria de rendas enormes e crescentes, enquanto que a outra, muito mais numerosa, trabalha da manhã à noite da sua vida por uma mísera recompensa; ou seja: uma vive sem trabalhar, enquanto que a outra trabalha sem viver, ou sem viver humanamente».
Marxismo e socialismo, catolicismo social, cooperativismo, mas também pensamento liberal (ontem, John Stuart Mill e, hoje, Amartya Sen) partilhavam desse diagnóstico, mesmo se divergissem sobre a natureza do relacionamento entre as classes, para alguns de tipo cooperativo e harmônico, para outros antagônico e violento. Alguns autores, o mais conhecido é o italiano Vilfredo Pareto, tinham teorizado também que essa distinção em duas (ou mais) classes opostas não era limitada à economia e à política, mas se estendia à inteligência, aos talentos, ao ponto de representar uma espécie de lei geral de natureza, de fato imutável. Outros, ao invés, pensavam diversamente e a história da democracia desses últimos dois séculos também pode ser lida como uma luta para reduzir progressivamente ou eliminar a rígida divisão da sociedade em ricos/poderosos versus pobres/fracos, mesmo eram grandes e permanecem as diferenças sobre o 'como' fazer.
As teorias liberais pressupunham que o próprio mercado, amadurecendo e evoluindo, tornaria mais justo e democrático o capitalismo, enquanto que aquelas marxistas propunham a revolução. Em todo caso ambas eram 'teorias do progresso', baseadas na convicção que a sociedade moderna teria superado de algum modo a opressão de uma classe sobre as outras. A história atual, porém, demonstrou que esses dois humanismos traíram a própria grande promessa, porque as sociedades modernas (inclusive aquelas coletivistas do passado recente, e do presente) não se encontram, além das retóricas, numa situação substancialmente diferente daquela descrita 110 anos atrás por Loria. A oposição entre classes não está hoje menos enraizada do que aquela típica da era do capitalismo industrial, ou da sociedade feudal. Mas existem algumas novidades, que se não forem vistas e compreendidas correm o risco de esconderem a modalidade real de permanência das classes e as suas consequências.
A novidade principal consiste na invisibilidade da classe dominante atual. Nas sociedades passadas, os ricos e poderosos eram bem identificados e presentes: eram os patrões, os nobres, os patrícios. Eram vistos e, se necessário, também combatidos e depostos do trono em seus próprios lugares (palácios, castelos, último piso dos escritórios…). Hoje, os verdadeiros ricos e os verdadeiros poderosos vivem em cidades invisíveis, embora muito reais, em "lugar nenhum": quem encontra pelas estradas das nossas cidades os verdadeiros ricos (top-manager, financeiros…)? Diferentemente do passado, não se vestem (muito) diferente de todos, não têm carros diferentes demais daqueles dos outros e mesmo se possuem casas muito diferentes das nossas, não as vemos a não ser na tv (ou em revistas) – e, portanto, no plano civil, é como se não existissem.
Tudo isso torna difícil interceptar a nova classe dominante e, dessa forma, pensa-se e escreve-se que as classes sociais, os patrões e os súditos, tenham desaparecido; e quando a frustração cresce, os procuramos nos lugares errados (pequenos e verdadeiros empresários, administradores locais, parlamentares…). Enquanto isso, a classe dominante continua a existir e os seus membros agem sob todos os níveis para consolidar privilégios, poder e especialmente o crédito de posições. Sejamos claros: não é o caso de retomar a conhecida fábula dos complôs, mas somente de levar a sério a categoria do poder, da qual fala-se sempre menos. De fato, é evidente demais que para uma pequena minoria da população essa crise não tenha criado nenhum problema, ao contrário, só reforçou a riqueza e o poder. A insegurança, a vulnerabilidade, o medo do presente e do futuro – os típicos sinais que falam de miséria, ontem e hoje – não tocam a classe dominante, mas todos os outros. Exceto, e aqui está o ponto, nas fases agudas da crise (no outono passado, por exemplo), quando diante do risco que faltasse o banco (e os bancos), a classe dominante também teve medo e agiu imediatamente, "comissionando" (com listas exigentes de 'deveres de casa') as nossas democracias que não fizeram resistência, porque fracas e algumas vezes corrompidas, de todo modo sem visão. E, de fato, se não tivéssmos nos dado conta ainda, não seria a classe dominante a pagar a conta por levar o sistema sob controle, mas a outra, todos os outros. Eis porque por de trás dessa crise, se esconde uma questão aberta a democracia: temos que ter consciência que atrás de tudo o que está acontecendo não existe nada de inevitável e nenhum destino, mas somente escolhas concretas, que devem ser entendidas, discutidas e depois democraticamente votadas.
Existe hoje, ao menos como no passado e até mais, uma elite da população, sempre mais transnacional, associada, mas sem face e sem faces, que quer evitar o «default» (ausência) do sistema sem colocar em discussão os próprios privilégios, riqueza, poder, mas só e simplesmente, a democracia. No ano passado, em janeiro, um observador "não técnico", mas atento como o presidente da Cei (Conferência Episcopal Italiana) o cardeal Angelo Bagnasco raciocinava com motivado e sábio espanto, como entre clamorosas desatenções, cortinas de fumaça e modas culturais, esteja sendo favorecida «a formação de coágulos supranacionais tão potentes e sem escrúpulos, ao ponto de fazer com que a política seja sempre mais fraca e submissa». E assim, enquanto «deveria ser decisiva», esta se encontra colocada num canto. Porque a (quase) invisível classe dominante decidiu «cortá-la fora e torná-la irrelevante, quase inútil». O que fazer então? Primeiramente tomar consciência do problema econômico-social e democrático que existe, e depois agir também politicamente. Usando, porém, categorias culturais que estejam à altura da fase histórica que estamos passando.
Todos os comentários de Luigino Bruni publicados no jornal Avvenire estão disponíveis no menu Editoriais Avvenire