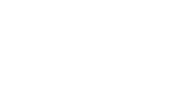A grande transição/3 – Como na guerra e nos cultos pagãos, sacrificam-se jovens dirigentes
por Luigino Bruni
publicado em Avvenire 18/01/2015
Deve ver-se no capitalismo uma religião: na sua essência ele serve para satisfazer as mesmas preocupações, tormentos, inquietações, a que no passado davam resposta as chamadas religiões.
Walter Benjamin, O capitalismo como religião, 1921
Nesta fase em que – partindo de diferentes quadrantes e, por vezes também com profundidade – se está refletindo sobre a insustentabilidade dos modelos económicos e financeiros que se afirmaram nas últimas décadas, um aspeto existe demasiadamente mal ponderado, se considerarmos a importância que ele tem na vida política, na democracia, no nosso bem ou mal estar. É a cultura de gestão das organizações: está a tornar-se numa verdadeira ideologia global, desenvolvida e ensinada nas principais universidades e capilarmente implementada por multinacionais e sociedades globais de consultoria. Uma ideologia que está a entrar em muitos âmbitos da vida social, graças também ao facto de se apresentar como técnica livre de valores, que foi capaz de reciclar muitos dos códigos simbólicos que a civilização ocidental associou, ao longo de milénios, à vida boa e à riqueza.
Assim, sem bater de olhos ético, aceita-se que os relacionamentos interpessoais cada vez mais estejam imersos nessa nova cultura e sejam geridos pelos novos atores globais, os social media e network em que “vivemos”, em que se desenrola já boa parte da nossa vida relacional e que são governados com fins de lucro por empresas leader desta nova cultura. Mas nas paredes dessas empresas começam a aparecer fissuras: bom seria que fossem tomadas muito a sério, se é que queremos evitar a implosão de todo o edifício.
Regista-se uma fragilidade relacional e emotiva crescente nos funcionários e dirigentes das empresas, sobretudo das grandes e globais. Cresce fortemente o uso de psicofármacos por parte dos gestores, porque crescem ansiedade, depressão, stress e insónia. Uma manhã, ao acordar, dirigentes brilhantes e de sucesso descobrem-se sem energia para se levantarem da cama. É a síndrome conhecida com o termo inglês burn-out, que literalmente significa “queimado”. O modo como este tipo de trabalho é concebido, planificado e incentivado está tornando muito frequente o burn-out; muitas empresas multinacionais consideram-no já uma fase normal da carreira do gestor. E ao primeiro burn-out segue-se um outro e depois outros mais, porque depois da cura regressa-se às mesmas relações, à mesma cultura patológica que produz o mal estar. As vítimas preferidas desta nova epidemia dos ricos são os consultores em empresas multinacionais, analistas financeiros, advogados e consultores comerciais de grandes firmas de advocacia e outras; e sobretudo um grande número de gestores e dirigentes de grandes empresas, bancos, fundos, companhias de seguros. Há preocupantes sinais deste problema também na administração pública, em ONGs, na economia social e em algumas obras surgidas de carismas religiosos; esta ideologia de gestão é invasiva, ensina-se em universidades e business school e em cursos “MBA” do mundo inteiro.
Na raiz deste novo mal-estar no trabalho encontra-se um paradoxo. Lei áurea desta cultura de gestão e organização é a proibição de misturar linguagens e emoções da vida privada com as da vida da empresa. Palavras como dom, gratidão, amizade, perdão e gratuidade, universalmente reconhecidas como fundamentais em relações familiares, sociais e comunitárias, devem absolutamente ser evitadas em lugares de trabalho pois são impróprias, ineficientes e, sobretudo, perigosas. Indo além da retórica de team e de equipas de trabalho, olhando com atenção para as dinâmicas reais destas novas empresas capitalistas, deparamos com dirigentes cada vez mais sozinhos que interagem com outros indivíduos sós, em relacionamentos funcionais e fragmentados com muitos partner e responsáveis sempre diferentes conforme a tarefa e o contrato. Nestas organizações existe mais hierarquia do que nas tradicionais, mesmo que se apresentem com um look participativo.
Enquanto estas novas empresas por um lado cultivam comportamentos de separação (os dirigentes não se “misturam” com os empregados em cantinas ou círculos recreativos e desportivos), por outro lado, quando é preciso selecionar e, depois, motivar os dirigentes, utilizam palavras típicas de espaços familiares, de amizade, ideais, éticos e espirituais. Fala-se de estima, mérito, respeito, paixão, lealdade, fidelidade, reconhecimento, comunidade; palavras e códigos que ativam na pessoa as mesmas dinâmicas que aprendeu e praticou na vida privada e familiar. Pede-se o mesmo empenho, estão em jogo as mesmas paixões.
Dando um pequeno passo atrás na história, verificamos que a primeira metáfora relacional que inspirou as empresas na modernidade foi a comunidade. As primeiras lojas de artesãos e depois as empresas familiares do final do séc. XIX e do séc. XX construíram organizações com base no paradigma relacional da família e da comunidade; isto também pelo grande peso social e económico que na idade média tiveram comunidades monásticas e conventos. Comunidades hierárquicas (e paternalistas), mas comunidades. Ainda na Europa, depois, apareceu na segunda metade do séc. XX a metáfora “política”: as empresas – principalmente as grandes – reproduziam a luta de classes típica desse tempo; a fábrica era uma fotografia da sociedade política, dos seus conflitos e colaborações.
Nas grandes empresas do Terceiro milénio está a acontecer algo de inédito que se aproxima da cultura religiosa e, por outros aspetos, da cultura militar. Nas empresas tradicionais do primeiro e segundo capitalismo pedia-se muito a trabalhadores e dirigentes; mas não se pedia demais e, principalmente, não se pedia tudo. Ficavam de fora outros âmbitos (família, comunidade, religião, partido …) nos quais decorriam partes da vida que não eram menos importantes que o do trabalho. Onde se pedia muito, e em certos casos, tudo, era na esfera religiosa (conventos, abadias e mosteiros) e, em diferente – em geral menor – medida na vida militar (nação e terra). Aí podia-se dar tudo porque a promessa valia a pena (Deus, o Paraíso, a Pátria).
O grande e perigoso bluff das modernas organizações do capitalismo de última geração esconde-se no uso que faz de registos simbólicos e motivacionais do mesmo tipo dos que, no passado, eram utilizados pela fé; mas – e aqui é que está o ponto – desnaturando-as e redimensionando-as radicalmente.
O novo capitalismo deu-se conta de que, se não ativasse as motivações e os símbolos mais profundos do ser humano, as pessoas não dariam a sua parte melhor. Por isso pede muito, (quase) tudo aos recém-admitidos; pede empenho de tempo, prioridade, paixões, emoções. Um empenho que não pode ser justificado recorrendo apenas ao registo do contrato e do dinheiro (por muito que seja). Apenas o dom de si pode explicar o que está a ser pedido e dado nas relações de trabalho deste tipo. Mas se a empresa reconhecesse verdadeiramente todo o “dom” que pretende dos seus trabalhadores, criaria laços comunitários (cum-munus) que na realidade não deseja porque tais relações deixariam de poder ser geridas e controladas. Limita-se, pois, ao reconhecimento das dimensões menos profundas e verdadeiras do dom de si e tudo faz para reconduzir os comportamentos ao âmbito do dever e do contrato.
Nos primeiros anos, e enquanto os trabalhadores-dirigentes são jovens, o jogo de promessas, expectativas, de retribuição de reconhecimento e atenções recíprocas empresa-trabalhador funciona e produz uma espiral crescente de empenho, resultados, gratificação. Mas com o passar do tempo tais investimentos afetivos e relacionais não reconhecidos vão-se acumulando e tornam-se créditos emotivos, até que um dia se compreende que jamais serão saldados. Entra então em crise o “contrato narcisista” original e as gratificações dos primeiros tempos transformam-se em desilusão e frustração. Começa a fase da insegurança, da desestima, do sentir que se “perde”; começa a ruir a imagem do “trabalhador ideal” construída até então. Compreende-se que o jogo não compensou a aposta da própria vida entretanto gasta e por vezes consumida e apagada. O jogo vai por diante com outros jovens que cedo serão substituídos por outros mais novos que eles. É impressionante o “consumo” (ou o “sacrifício”) de juventude nestas organizações: como nos exércitos e nos cultos pagãos.
As grandes palavras da vida dão fruto apenas se não forem instrumentalizadas. Precisam de espaços amplos, de ser acolhidas na sua complexidade e – sobretudo – na sua ambivalência que as torna fecundas, vivas e verdadeiras. Por sua intrínseca natureza, não se deixam usar para fins de lucro; pelo menos durante muito tempo, certamente. A história humana oferece imensos exemplos de tentativas de usar para vantagem privada as grandes palavras da humanidade. Magia e idolatrias de todo o género não passam disso mesmo. Mas toda a ideologia é essencialmente uma tentativa de manipular uma ou mais das grandes palavras da humanidade (liberdade, fraternidade, igualdade), reduzindo a sua complexidade e ambivalência para as controlar, controlando assim pessoas e consciências. A ideologia da gestão está a manipular estima, reconhecimento, comunidade; usa-as sem gratuidade e portanto sem responsabilidade pelos custos emotivos e pelas feridas relacionais que a ambivalência destas palavras grandes inevitavelmente produz.
Todos queremos o paraíso, todos gostaríamos de usar a vida de modo heroico; mas não podem ser as empresas e os seus objetivos os lugares onde estas promessas se poderão realizar. A terra delas tem um céu baixo demais; o seu horizonte é demasiado estreito para ser, de verdade, o da terra prometida.